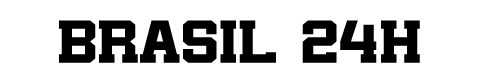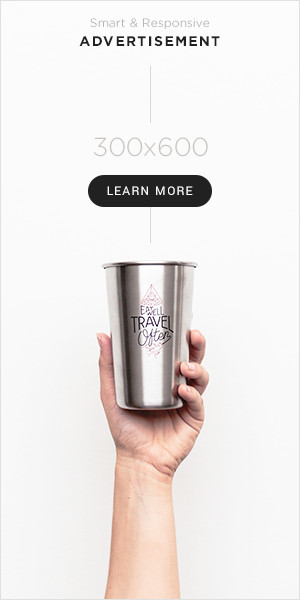A Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) voltada aos povos indígenas deve ser institucionalizada e universal, incentivando o acolhimento dos estudantes nas universidades e institutos federais, defenderam nesta segunda-feira (3) os participantes de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos (CDH). Participaram gestores e representantes de instituições ligadas à educação e aos direitos dos povos indígenas. O debate foi proposto e presidido pelo senador Paulo Paim (PT–RS).
O valor da assistência estudantil voltada aos indígenas é de R$ 1.400. De acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2021, cerca de 46 mil estudantes indígenas estão matriculados em universidades, sendo 13 mil na rede federal, o que representa cerca de 0,5% do total de alunos. Atualmente, o Orçamento da União banca o Pnaes para 16 mil universitários de comunidades indígenas e quilombolas, o que, na avaliação dos debatedores, é positivo, mas ainda está abaixo do necessário.
No entendimento de Paulo Paim, é preciso dialogar com as comunidades para viabilizar a efetividade dessa política pública, ampliar seu alcance e adequá-la à realidade indígena.
— Trata-se de um avanço significativo [o Pnaes]. No entanto, exige debate direto com as comunidades indígenas sobre a efetividade e operacionalização do acesso a esses recursos, sobretudo diante das dificuldades específicas enfrentadas por estudantes indígenas nas universidades e institutos federais. Como barreiras territoriais, racismo estrutural e ausência de acolhimento — observou o senador.
Diretora de Políticas de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação (MEC), Rosilene Cruz de Araújo, que é indígena da etnia Tuxá, ressaltou ser fundamental buscar a universalização da assistência estudantil aos indígenas em universidades e institutos federais. Para isso, defendeu a institucionalização do programa, como política pública permanente.
— É preciso pensar a institucionalização e trazer o programa como política pública, porque isso faz com que a gente garanta um orçamento fixo para dar conta dessa universalização — declarou Rosilene de Araújo.
O debate ocorre em um momento de implementação de duas novas leis: a Lei 14.914, de 2024, que institui a Pnaes como política pública permanente; e a Lei 15.169, de 2025, que prioriza a destinação de recursos do Fundo Social (proveniente dos royalties do petróleo e gás natural) para bancar a assistência estudantil.
Vulnerabilidade
A presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bianca Borges, destacou que existem “barreiras persistentes” que são impostas aos estudantes indígenas, que vão além do apoio financeiro, como a ausência de acolhimento cultural e a adaptação das faculdades e institutos à realidade do aluno.
— Infelizmente, mesmo os estudantes que são atendidos pelas políticas têm uma tendência muito grande de permanecer em vulnerabilidade. Porque não é só a oferta da bolsa que resolve essa situação, são barreiras persistentes que afetam os estudantes indígenas. Muitas vezes, a distância entre o seu local de moradia e as universidades ou os institutos federais, as deficiências das políticas de moradia, de alimentação, de transporte, o aspecto imaterial e simbólico. Mas [algo] que é igualmente importante, que é o acolhimento cultural, a língua, a identidade e [a existência de] um racismo institucional, além da falta de políticas específicas das universidades voltadas para as realidades dos estudantes indígenas.
Participação direta
O representante da União Plurinacional de Estudantes Indígenas, Arlindo Baré, afirmou que, além de acolhimento e financiamento, é preciso incluir as comunidades nos debates e na elaboração das ações afirmativas, para que consigam se conectar com a realidade dos povos indígenas.
— O Pnaes, além de garantir o financiamento da própria política, precisa garantir a nossa participação direta nessa discussão, nessa possibilidade de garantir que a partir do financiamento a gente consiga que essa política chegue de forma diferenciada, de forma acolhedora para os estudantes indígenas. Esses sujeitos que hoje estão acessando a universidade precisam ser, de certa forma, não só acolhidos pela universidade, mas acolhidos na formulação dessas políticas.
Coordenador de Articulação de Políticas Educacionais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Edilson Baniwa destacou que apesar de mais de 15 anos de políticas afirmativas no Brasil, o ensino superior para os povos indígenas ainda não conseguiu avançar no tripé ensino, pesquisa e extensão. Ele defendeu investimentos federais na construção de Casas dos Estudantes para acolhimento de indígenas, espaços de convivência culturais, além de bolsas de pesquisa distintas em mestrado e doutorado, pensando nas especificidades e custos ampliados de estudos locais em territórios mais remotos, como os localizados na Amazônia.
— Você pega as universidades hoje, não tem se disponibilizado recurso para que nós possamos ir lá nos nossos territórios [indígenas] fazer a pesquisa, depois voltar para cá [nas instituições acadêmicas] para compartilhar as nossas experiências. Então eu acho que na parte de extensão precisamos melhorar isso. Porque se não fortalecemos as nossas atividades de extensão, teremos problemas. Você fica quatro, cinco anos na universidade, tendo referências que não são indígenas e aí você não consegue avançar sob o ponto de vista mais científico — disse Baniwa.
Diversidade e sustentabilidade
A ampliação do acesso e permanência dos estudantes indígenas nas universidades, segundo o diretor de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Eliel Benites, também contribui para avanços no conhecimento sobre sustentabilidade, saúde e enfrentamento à crise climática. Ele afirmou ainda que a busca pelo ensino superior é uma das saídas buscadas pelas comunidades como resposta de autoafirmação diante o processo de violência e tentativa de extermínio.
— Nós temos que melhorar a política de entrada, a permanência e também de que maneira [o estudante] possa estar voltando, atuando a partir da formação em relação às suas comunidades e seus territórios. […] Temos que garantir a diversidade. Porque uma política com muito boa intenção [pode continuar] uma velha política de homogeneização da cultura e da língua.
Lei de Cotas
O Decreto 11.781, de 2023, que regulamentou a Lei de Cotas (Lei 14.723, de 2023), estabeleceu que, no momento da inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), todos os candidatos devem concorrer inicialmente na ampla concorrência, inclusive os que se enquadram em cotas. Somente se não alcançarem a vaga por essa modalidade, deverão concorrer às vagas reservadas para seus respectivos grupos de cotas.
De acordo com o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação, Adilson Santana de Carvalho, essa alteração no remanejamento foi fundamental para aumentar em 124%, em 2025, o número de acesso de estudantes cotistas nas vagas do ensino superior pelo Sisu.
Para Adilson Carvalho, tanto o decreto como a aprovação das duas novas legislações têm sido essenciais para que o governo federal amplie o acesso e a permanência dos estudantes indígenas no ensino superior.
— Em 2025, a gente garantiu esse direito a 27.515 estudantes. Juntando os dois anos, 40 mil estudantes [tiveram] o direito a acessar as vagas das universidades pela Lei de Cotas e pelo Sisu, que não estavam fazendo isso porque o algoritmo estava implantado de maneira incorreta, em contrário à lei e ao decreto.
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)